Nascido em 1933,
Rubem Alves se dedicou a diversas atividades durante a vida: foi teólogo,
psicanalista, educador e escritor. Foi usando principalmente os dois últimos
interesses que o mineiro escreveu para a Revista Educação por
sete anos, entre 2005 e 2012. Uma falência múltipla de órgãos o levou à morte
em 19 de julho de 2014, aos 81 anos.
A
escola dos meus sonhos
Vou contar um caso de amor. Amor à primeira vista. Eu me apaixonei pela Escola da Ponte. Bastou vê-la para que um passado reverberasse dentro de mim.
Não tenho memórias dolorosas do grupo escolar. As coisas a
serem aprendidas eram fáceis e eu as aprendia sem esforço. Mas minha
efervescência intelectual – pois as crianças também têm efervescências
intelectuais – estava em outro lugar: no mundo que começava quando eu saía da
escola.
Eu me levantava às 5h e me punha a andar pela casa fazendo
barulho. Queria que os adultos dorminhocos despertassem do seu sono para o
mundo maravilhoso que aparecia com a luz do dia. Minha curiosidade me levou a
desmontar o relógio de pulso de minha mãe, o único que ela tinha. Queria saber
como ele funcionava, aquelas engrenagens fascinantes. Infelizmente, não
consegui montá-lo de novo.
No grupo escolar, nos ensinavam o que o programa mandava: o
nome de serras, Serra da Mata da Corda, do Espinhaço, da Bocaina; o nome de
afluentes de rios distantes, dos quais a única coisa que aprendíamos eram… os
nomes. O que me foi útil no exame de admissão, porque me perguntaram o nome da
segunda maior ilha fluvial do mundo. Tupinambarana. Eu sabia o nome. Mas ainda
hoje, nada sei sobre a ilha.
Era tempo da Segunda Guerra Mundial. As batalhas entravam em
nossa casa pelo rádio. “E Stalingrado continua a resistir.” “Aviões aliados
martelaram as posições nazistas no Vale do Pó.” Meu pai afixou um mapa da
Europa na parede e nele íamos seguindo os movimentos das tropas. A imaginação
corria rapidamente e eu me sentia como um soldado na frente de batalha. O mapa,
os países, o nome das cidades, dos rios, das montanhas – tudo estava vivo para
mim.
Conto essas coisas da minha vida de menino para dizer que as
crianças são curiosas naturalmente e têm o desejo de aprender. O seu interesse
natural desaparece quando, nas escolas, a sua curiosidade é sufocada pelos
programas impostos pela burocracia governamental. Pela minha vida tenho estado
à procura da escola que daria asas à curiosidade do menino que fui. Pois, de
repente, sem que eu esperasse, eu me encontrei com a escola dos meus sonhos. E
me apaixonei.
Novas formas de ver
Tudo começou em 2000, via internet. Comecei a receber
e-mails de um desconhecido de Portugal, Ademar Ferreira dos Santos. Uma
brasileira lhe havia dado um livrinho meu, Estórias de Quem Gosta de
Ensinar. Ele gostou. Sem nos conhecermos pessoalmente, nos descobrimos amigos.
Ele me convidou para ir a Portugal e falar aos professores da Universidade de
Braga e adolescentes de uma escola secundária. Fui e fiz. Foi bom. Aí, numa
manhã, ele me disse: “Vou levar-te a conhecer uma escola diferente.” “Diferente
como?”, perguntei. “Não é possível dizer-te. Tu verás.” Chegamos à escola. Na
sua frente havia um pátio arborizado. Lá estava o diretor, professor José
Pacheco. Mais tarde, aprendi que ele se recusa a ser chamado de diretor, por
razões que explicarei mais tarde.
Minha expectativa era que o diretor, por um mínimo dever de
cortesia, haveria de levar-me a conhecer a escola. Homem de poucas palavras,
trocamos meia dúzia de banalidades. Vinha passando à nossa frente uma menina de
uns 9 anos. Ele a chamou e disse: “Tu podes mostrar e explicar a nossa escola
ao nosso visitante?” “Pois, pois”, respondeu a menina, sem mostrar nenhuma
surpresa. Ato contínuo, ele me abandonou e fiquei eu à mercê da menina.
Os primeiros sustos
Eu nunca tinha tido experiência semelhante e nunca imaginei
que fosse possível que um diretor entregasse a uma aluna, menina de 9 anos, a
tarefa de mostrar e explicar a sua escola a um educador estrangeiro.
A menina não se fez de rogada. Encaminhou-se resolutamente
na direção da porta da escola e eu, obedientemente, a segui. Chegando à porta,
ela parou, voltou-se para mim e disse em voz resoluta e confiante: “Para
entender a nossa escola, o senhor terá de se esquecer de tudo o que o senhor
sabe sobre escolas. Não temos turmas, não temos alunos separados por classes,
nossos professores não dão aulas com giz e lousa, não temos campainhas
separando o tempo, não temos provas e notas.”
Foi o segundo susto. As palavras da menina produziram um
vazio na minha cabeça. Porque as escolas que conheço, mesmo as mais
experimentais e avançadas, têm professores dando aulas, têm turmas, têm salas
de aula que separam as crianças, têm provas e testes, têm notas e boletins para
o controle dos pais.
Professores aprendizes
Perguntei: “E como é que vocês aprendem?” Ela me respondeu:
“Formamos um pequeno grupo de seis pessoas em torno de um tema de interesse
comum. Convidamos um professor para ser nosso assessor. Ele nos ajuda com
informações bibliográficas e de internet. Estabelecemos, de comum acordo, um
programa de trabalho de duas semanas. Durante esse tempo, lemos e pesquisamos.
Ao cabo de duas semanas, nos reunimos para avaliar o que aprendemos e o que
deixamos de aprender.”
Percebi logo que naquela escola não podia haver
livros-texto. Livros-texto são onde se encontram os saberes que, por escolha e
determinação de uma instância burocrática superior, devem ser aprendidos pelos
alunos. O conjunto desses saberes se denomina “programa”. Mas acontece que a
curiosidade não segue os caminhos determinados pela burocracia
.
Sem livros-texto, as crianças têm de aprender a procurar os
saberes necessários à compreensão do “tema de interesse comum”. E os
professores deixam de ser aqueles que sabem os saberes prescritos pelos
programas. Eles se encontram permanentemente em suspenso ante o inesperado dos
interesses das crianças. Os professores não são aqueles que sabem os saberes.
São aqueles que sabem encontrar caminhos para os saberes. De qualquer forma, os
saberes já se encontram em livros, bibliotecas, enciclopédias, internet.
Acresce-se a isso o fato de que, hoje, os saberes se tornam rapidamente
obsoletos.
Se os alunos tiverem os mapas e souberem encontrar o
caminho, eles terão sempre condições de descobrir o que sua curiosidade pede. E
os professores, por não saberem de antemão o que as crianças querem saber, têm
de se tornar aprendizes junto às crianças. O tal “programa de trabalho de duas
semanas”, de que falou a menina, era para os professores também. Eles ensinam o
aprender aprendendo junto. O que é muito mais divertido do que ficar, todos os
anos, repetindo os mesmos saberes imobilizados pelos programas. Ficar a repetir
o que se sabe, ano após ano, é, sem dúvida, uma prática emburrecedora.
Dentro da escola
Andamos um pouco e a menina abriu a porta da escola. Era uma
grande sala, com muitas mesinhas, crianças pequenas, crianças grandes, algumas
com síndrome de Down, todas juntas no mesmo espaço. Cada uma fazendo a sua
coisa. Estantes com livros. Vários computadores. Algumas crianças lendo ou
escrevendo. Outras consultando livros e a internet. Algumas professoras
assentadas às mesinhas junto das crianças. Ninguém falava alto. Só sussurros. E
ouvia-se, baixinho, música clássica.
Numa parede, em letras grandes, estavam várias frases
relativas ao descobrimento do Brasil. Era o ano em que se comemoravam os cinco
séculos da descoberta. “Que são essas frases?”, perguntei. “Os miúdos
[crianças] estão a aprender a ler. Aqui não aprendemos nem letras, nem sílabas.
Só aprendemos totalidades. Mas temos de aprender a ordem alfabética para
consultar o dicionário.” Outro susto: aprender a consultar o dicionário tão
cedo?
Mistérios do dicionário
Ao nosso lado havia uma mesinha em que três meninas
trabalhavam. Uma delas consultava um dicionário. Ajoelhei-me ao seu lado, para
que nossos olhos estivessem no mesmo nível, e perguntei: “Tu estás a consultar
o dicionário?” “Sim”, ela me respondeu. “Procuras uma palavra que não
conheces?” “Não, conheço a palavra.” Eu não entendi e perguntei de novo: “Mas
se conheces a palavra por que a procuras no dicionário?” Aí ela me deu uma
resposta que me produziu outro susto. “É que estou a produzir um texto para os
miúdos e usei uma palavra que, creio, eles não conhecem. Estou, assim, a
preparar um pequeno dicionário que colocarei ao pé da página do meu texto para
que entendam o que escrevi, posto que ainda não podem consultar o dicionário
por não haverem ainda aprendido a ordem alfabética.” Fiquei assombrado. Aquela
menina tinha clara consciência dos limites dos conhecimentos dos “miúdos”. Ela
escrevia pensando neles. Naquela idade, já era uma educadora.
Os quadros de ajuda
Para que aquela menina estivesse escrevendo um texto para as
crianças era preciso que não houvesse paredes separando-a dos “miúdos”, que
eles ocupassem o mesmo espaço e existisse entre eles relações de comunicação,
confiança e responsabilidade. O texto que ela escrevia não fora um “dever” que
a professora lhe passara. Ela o escrevia a pedido dos alunos mais novos.
Essa rede livre de comunicação, responsabilidade e ajuda
estava silenciosamente exibida em dois quadros afixados na parede. Num deles
estava escrito Preciso que me ajudem em, no outro, Posso ajudar em. Qualquer
aluno que esteja com um problema, antes de procurar a professora, escreve o seu
pedido no primeiro quadro: “Preciso que me ajudem em regra de três”, e assina o
nome, Fátima, por exemplo. Aí, o Sérgio, passando pelo quadro, vê a mensagem da
Fátima e pensa: “A Fátima não sabe regra de três. Eu sei. Vou ajudá-la.” E isso
acontece naturalmente, é parte do cotidiano da escola. Não é preciso pedir
licença à professora e nem há hora certa para se fazer isso.
O segundo quadro é o contrário: quando um aluno se sente
competente em um saber, ele o anuncia aos colegas e se coloca à disposição. A
capacidade de ensinar um saber a alguém vale por uma avaliação. E é o aluno
quem a faz. É ele que se sente competente. Assim vão eles praticando as
virtudes de ensinar, de aprender e de se ajudarem uns aos outros.
O grande tribunal
Eu me encontrava num estado de perplexidade. Como explicar
aquilo que eu via acontecendo? Ninguém falando alto, nenhuma professora pedindo
silêncio, todos trabalhando, a música clássica. Aquilo não podia ser toda a
verdade. Deveria haver algo mais. Perguntei à menina: “Mas vocês não têm alunos
agressivos, indisciplinados, que gritam e perturbam a ordem?” “Temos. Mas para
isso temos o tribunal de alunos. Quando um menino ou uma menina se comporta de
maneira a perturbar a ordem nos termos que nós mesmos estabelecemos, o tribunal
entra em ação e providências disciplinares são tomadas.”
“Que coisa maravilhosa”, eu pensei. Uma escola onde os
professores não são responsáveis pela disciplina. E nem o diretor é a instância
punitiva última, para onde são enviados os desordeiros. É a comunidade das
crianças que cuida disso. Professores e diretor podem, assim, se dedicar aos
desafios prazerosos de aprender junto com os alunos.
O último julgamento
Voltei à Escola da Ponte em 2001. Perguntei sobre o
tribunal. O professor José Pacheco contou-me que o tribunal não existia mais.
Fora abolido pela assembléia. Percebeu-se que ele era uma instância de punição
e não de recuperação. E passou a relatar-me o incidente que produzira a sua
dissolução.
Um aluno violento fora levado ao tribunal para responder por
uma agressão. A assembléia da escola nomeou, como de praxe, um advogado de
acusação. O réu escolheu um colega para defendê-lo. A assembléia se reuniu para
o julgamento.
“A acusação foi devastadora”, disse-me o professor José
Pacheco. “Reuniu as provas e estabeleceu de forma cabal a culpa do réu. Eu
pensei: ele está perdido, não há saída. Entrou em ação o advogado de defesa.
Ele não negou o que fora apresentado pela acusação, nem apresentou fatos que
minimizassem a culpa do réu, mas lembrou aos membros do tribunal que todos eles
eram cristãos, freqüentavam a missa e o catecismo. E que, na igreja, se
ensinava que o amor nos leva a ajudar aqueles que estão em dificuldades.
Concluiu: ‘Pois esse colega tem estado em dificuldades há muito tempo e todos
sabíamos disso. E agora estamos prontos a puni-lo. Antes que o tribunal dê a
sentença, e em nome da nossa coerência, quero que respondamos o que fizemos
para ajudá-lo.'”
Esse foi o fim do tribunal. No seu lugar estabeleceu-se uma
comissão de ajuda. Hoje, na Escola da Ponte, quando algum aluno começa a
apresentar problemas de comportamento, essa comissão se adianta e nomeia
colegas para ajudá-lo, com a missão de estar sempre por perto do dito aluno. E,
quando se percebe que ele vai fazer algo inadequado, os colegas entram em ação
para tentar dissuadi-lo.
O direito à alegria
A menina continuou a me guiar. Chegamos a uma mesa onde
estava trabalhando uma aluna com síndrome de Down. Vi a garota e pensei sobre
sua convivência mansa com os seus colegas. Senti que sua presença ali era algo
normal e feliz na rede de relação de solidariedade e de aprendizado que
constitui a escola. Aquela menina era parte dessa rede. Com algumas peculiaridades
e limitações, é claro. Mas, como todos os outros, ela se dedicava a aprender.
Se me perguntarem se ela conseguia seguir o programa, eu
responderia dizendo que não há um programa a ser seguido numa ordem certa e num
mesmo ritmo. Cada criança é única, com seus próprios sonhos, ritmos e
interesses. A escola não pode destruir essa criança para amoldá-la a uma
“forma”.
O objetivo da escola é criar um espaço em que cada criança
possa pensar os seus sonhos e realizar aquilo que lhe é possível, no ritmo que
lhe é possível. Pensei que, nas escolas da minha memória, é comum que a
preocupação dominante dos professores seja dar o programa. É isso que a
administração pede deles. Não é incomum que professores, em conversas, falem em
que lugar da “corrida” dos programas eles se encontram. É compreensível. Como
partes da máquina burocrática, eles perderam a liberdade e se esqueceram dos
sonhos antigos.
A educação não tem como objetivo preparar os alunos para
ingressar no mercado de trabalho. O objetivo é criar as condições possíveis
para a experiência da alegria. Porque é para isso que vivemos. A escola deve
ser um espaço em que isso acontece. Parte das potencialidades daquela menininha
tem a ver com saber viver no mundo dos ditos “normais”. E parte das potencialidades
das crianças ditas “normais” tem a ver com saber conviver com crianças
diferentes – e ajudá-las. Isso também é alegria. Esse aprendizado de
solidariedade é mais importante do que qualquer conteúdo de programa.
Cada aluno é único
Pensei: o que são programas? Programas são uma organização
lógica de saberes dispostos numa ordem linear e que devem ser aprendidos numa
velocidade igual, como se todos estivessem numa linha de montagem de uma
fábrica.
Sobre que pressupostos se constroem os programas? Bem, o primeiro
costuma ser mais ou menos assim: “A aprendizagem se dá numa relação entre o
saber, abstratamente definido, e a inteligência da criança. A mediação entre
saberes e inteligência se dá pela didática. Se a aprendizagem não acontece, o
problema se encontra ou na inteligência deficiente da criança ou numa didática
inadequada.”
Um segundo pressuposto prega que “todas as crianças são
iguais”. É só isso o que justifica que os mesmos saberes sejam dados a todas as
crianças. Mas isso é patentemente falso. Os sonhos das crianças das praias de
Alagoas, das montanhas de Minas Gerais, da Amazônia, das favelas, dos
condomínios ricos não são os mesmos. Então, qual é o sentido instrumental dos
saberes abstratos igualmente prescritos a todas as crianças pelos programas? Não
admira que sejam logo esquecidos. Só realmente aprendemos aquilo que usamos.
“Todas as crianças têm o mesmo ritmo. Por isso as crianças
têm de aprender no ritmo em que as aulas são dadas.” Ah, o ritmo das aulas.
Toca a campainha, é hora de pensar português. Toca a campainha, é hora de parar
de pensar português e começar a pensar matemática. Toca a campainha, é hora de
parar de pensar matemática e começar a pensar geografia. E assim por diante. O
ritmo e a fragmentação das aulas estão em completo desacordo com tudo o que
sabemos sobre o processo de pensamento. Não é possível dar ordens ao pensamento
para que ele pare de pensar numa coisa numa certa hora e comece a pensar em
outra.
Mas há ainda um quarto pressuposto: “A avaliação da
aprendizagem se faz por meio de provas e testes e os seus resultados são
expressos em números.” Confesso ainda não ter compreendido a função pedagógica
desse procedimento. Sobre isso há muito a ser escrito.
Grandes horizontes
Na Escola da Ponte não há programas. Isso não quer dizer que
a aprendizagem aconteça ao sabor dos desejos das crianças. Imagine um homem do
campo, que só conheça as comidas mais simples: polenta, feijão, abobrinha,
picadinho de carne. Imagine que ele venha à cidade e seja levado por um amigo a
um restaurante. “Que é que o senhor deseja?”, lhe perguntaria o garçom. Ele
certamente responderia falando de polenta, feijão, abobrinha, picadinho de
carne, pois esse é o seu repertório de pratos. Aí, o amigo lhe diria: “Quero
sugerir que você experimente uns pratos diferentes.”
Assim acontece na relação entre professores e alunos. Os
professores sabem mais. É por isso que são professores. E uma de suas tarefas é
“seduzir” as crianças para coisas que elas ainda não experimentaram. Eles lhes
apontam coisas que nunca viram e as introduzem num mundo desconhecido de arte,
literatura, música, natureza, lugares, história, costumes, ciências,
matemática.
“A primeira tarefa da educação é ensinar a ver”, dizia o filósofo
Nietzsche. Não é obrigatório que elas gostem do que vêem. Mas é importante que
seus horizontes se alarguem.
O direito de não ler
O dia na Escola da Ponte se inicia de uma forma inusitada.
Cada criança se assenta onde quer e escreve numa folha de caderno o seu plano
de trabalho para aquele dia. Esse plano de trabalho está ligado ao seu projeto
de investigação. Ao final do dia, comparando o realizado com o planejado, ela
poderá avaliar o quanto caminhou. Eu imagino que deveria ser mais ou menos
assim que o trabalho acontecia nas oficinas artesanais e de arte do Renascimento:
os aprendizes trabalhavam num projeto artesanal, ou de escultura, pintura, e,
vez por outra, o mestre aparecia para avaliar, corrigir, sugerir.
Andando na Escola da Ponte, encontro um cartaz cujo título
era: Direitos e deveres das crianças em relação aos livros. O primeiro direito
me deu um susto tão grande que nem li os outros. Foi susto por ser inesperado.
Mas foi um susto bom. Até ri. Dizia assim: “Toda criança tem o direito de não
ler o livro de que não gosta.” Esse direito sempre me pareceu óbvio. Mas eu
nunca o havia visto assim escrito de forma clara, numa escola, para que os
alunos o lessem. As escolas da minha memória jamais fariam isso. Porque é parte
do seu dever burocrático fazer com que as crianças leiam os livros de que não
gostam.
Há professores que ensinam literatura para desenvolver uma
postura crítica nos seus alunos. Mas esse não é o objetivo da literatura. Lê-se
pelo prazer de ler. Por isso, refugo quando pessoas falam sobre a importância
de desenvolver o hábito de leitura. Isso é o mesmo que dizer que é preciso
desenvolver nos maridos o hábito de beijar a mulher. Hábitos são comportamentos
automatizados que nada têm a ver com prazer. Lê-se pela mesma razão que se dá
um beijo amoroso: porque é deleitoso, porque dá prazer ao corpo e alegria à
alma.
As duas caixas
Já resumi minha teoria de educação dizendo que o corpo
carrega duas caixas. Uma delas é a “caixa de ferramentas”, onde se encontram
todos os saberes instrumentais, que nos ajudam a fazer coisas. Esses saberes
nos dão os “meios para viver”. Mas há também uma “caixa de brinquedos”.
Brinquedos não são ferramentas. Não servem para nada. Brincamos porque o
brincar nos dá prazer. É nessa caixa que se encontram a poesia, a literatura, a
pintura, os jogos amorosos, a contemplação da natureza. Esses saberes, que para
nada servem, nos dão “razões para viver”.
A “caixa de ferramentas” guarda muitos livros: manuais,
listas telefônicas, livros de ciências. Na “caixa de brinquedos” estão os
livros de literatura e poesia que devem ser lidos pelo prazer que nos dão.
Obrigar uma criança ou um adolescente a ler um livro de que não gosta só tem um
resultado: desenvolver o ódio pela leitura. É o que acontece com os jovens que,
preparando-se para o vestibular, são obrigados a ler os “resumos”. A receita
certa para destruir o prazer da leitura é colocar um teste ao seu final para
avaliar o aprendido. Ou pedir que se faça um fichamento do livro lido.
Leis e direitos
Numa parede da escola se encontravam as “leis”. Mais
importante que as leis era o fato de que elas tinham sido sugeridas e aprovadas
pela assembléia de alunos. Aquele documento representava a vontade coletiva de
crianças, professores e funcionários. Era o seu “pacto social” de convivência.
Lembro-me de alguns itens. “Todas as pessoas têm o direito de dizer o que
pensam sem medo.”
“Ninguém pode ser interrompido quando está falando.” “Não se
deve arrastar as cadeiras fazendo barulho.”
O item que mais me comoveu e que é revelador da alma
daquelas crianças foi esse: “Temos o direito de ouvir música enquanto
trabalhamos, para pensar em silêncio.” Entendi, então, a razão da música
clássica que se ouvia baixinho.
Acho bem e acho mau
Ao final da minha caminhada inaugural pela Escola da Ponte,
a menina me indicou um computador. “Nesse computador se encontram dois
arquivos”, ela explicou. “Um se chama Acho bem, o outro, Acho mal.” Qualquer
pessoa pode usar o computador para comunicar aos outros o que acha bem e o que
acha mal. Um ninho de passarinho num galho de árvore, um ato do presidente da
República, o aniversário de um colega, um livro divertido – tudo isso pode
estar no Acho bem. No Acho mal, eu encontrei: “Acho mal que o Fernando fique a
dar estalos na cara da Marcela.” Pensei logo: “Esse é candidato ao tribunal…”
As crianças haviam aprendido que há palavras grosseiras,
chulas, que não devem ser usadas. No seu lugar usam-se outras palavras
sinônimas. É o caso do verbo “cagar”, que não deve ser usado em situação
alguma. Mas pode-se usar o sinônimo “defecar” que, sem ser elegante, pelo menos
não ofende. Pois uma menina escreveu: “Acho mal que os meninos vão a defecar na
privada e deixem a tampa toda cagada.” Menina genial! Ela sabia que o
dicionário estava errado. Cagar e defecar não são palavras sinônimas, muito
embora o dicionário assim o declare. Se ela tivesse escrito “acho mal que os
meninos vão a defecar na privada e deixem a tampa toda defecada”, sua
indignação teria perdido toda a força literária. Porque aquilo que os meninos
faziam na tampa da privada não era defecar; era “cagar” mesmo, uma coisa chula
e grosseira.
O todo e as partes
A menina já me havia informado do princípio central da
pedagogia da Escola da Ponte, ao me explicar como os miúdos aprendiam a ler:
“Aqui não aprendemos nem letras e nem sílabas. Só aprendemos totalidades.” As disciplinas
isoladas são o resultado da tendência de análise e especialização que
caracterizam o desenvolvimento das ciências ocidentais. A Nona Sinfonia, de
Beethoven, não é o conjunto de suas notas. Ela não se inicia com notas e
acordes. A totalidade vem primeiro e é só em relação a ela que as partes têm
sentido. Assim é o corpo: uma entidade musical. Nenhuma de suas partes tem
sentido em si mesma. É a melodia central do corpo que faz as partes dançarem.
Mas os nossos jovens, diante do vestibular – e é preciso não esquecer que os
programas das escolas se orientam no sentido de preparar para o vestibular -,
trazem consigo as partes desmembradas de um corpo morto: uma soma enorme de
informações que não formam um todo significativo. Física, química, biologia,
história, geografia, literatura, como se relacionam? Fazem-se então esforços
inúteis de interdisciplinaridade. Inúteis porque o todo não se constrói
juntando-se as partes.
Brincar é coisa séria
A Escola da Ponte me mostrou um mundo novo em que crianças e
adultos convivem como amigos na fascinante experiência de descoberta do mundo.
Aprender é muito divertido. Cada objeto a ser aprendido é um brinquedo. Pensar
é brincar com as coisas. Brincar é coisa séria. Assim, brincar é a coisa séria
que é divertida.
Quando falo que me apaixonei pela Escola da Ponte, estou
dizendo que amo aquelas crianças. Gosto delas. E elas também gostam de mim.
Voltar à Escola da Ponte já está se tornando rotina. Quando lá chego, sou
afogado por centenas de “beijinhos”. Comove-me a amizade daquelas crianças.
Sinto que o maior prêmio para um professor é quando os alunos se tornam amigos
dele. Um verdadeiro professor nunca sofre de solidão.
Uma entrevistadora brasileira perguntou a uma menina: “Quem
é Rubem Alves?” A menina respondeu: “É um velhinho que conta estórias.” As
crianças podem me chamar de velhinho. Não me importo. Mas somente elas.
Fonte: Revista
Educação
Comentário:
Esse teólogo
é de fato uma grande pessoa na área de educação, ter alguma pessoa que possue
grande habilidade em educação é um recurso de progresso exemplar. Rubem Alves
foi um exemplo de muitos avanços na educação e seus resultados foram
brilhantes, significou algo que certas pessoas possuem o dom de garantir
um futuro ao nosso mundo.
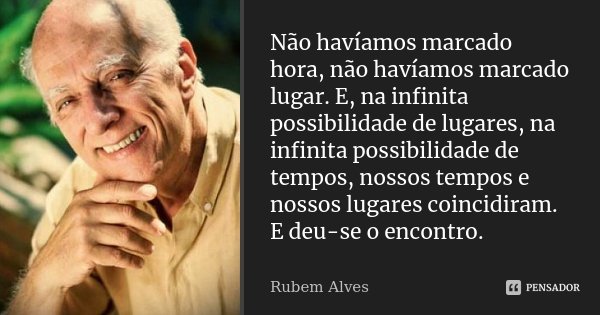
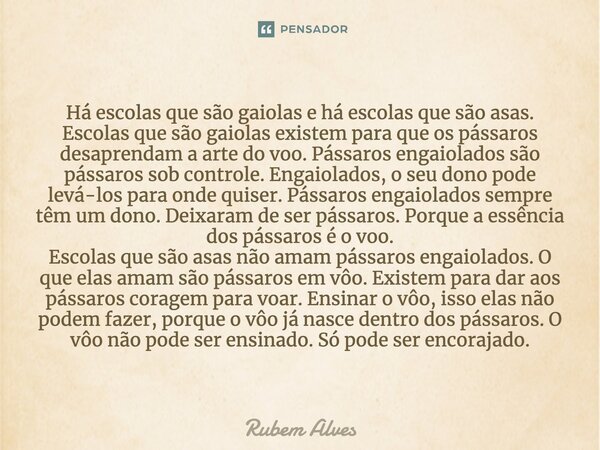


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.